prosa e verso
muito do que temos a dizer
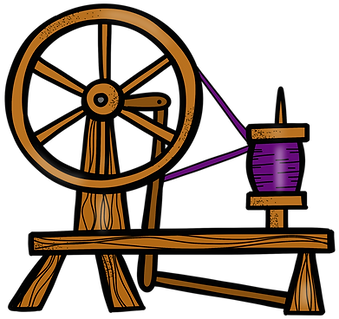
A roca
I por Graziela Honorato
Das estórias contadas à mesa do café, o episódio da roca era o que mais me cativava.
Logo eu, que vivamente me entretinha pelo feitiço das broas e dos pães de queijo; eu, –que ainda agora me distraio em qualquer discurso mais longo que um Tiktok –, era então arrebatada por aquele instante de história.
E assim se dava toda a coisa, em um deixar-me levar sem resistência até por fim me perder, me encantar e de novo me encontrar nos emaranhados daquela trama familiar, como se nada mais na vida importasse, além de uma imagem e um enredo.
Contam que meu avô, – Sebastião, como o santo que dá nome ao rio –, foi visto pelas bandas do brejo, carregando uma roca. A madeira tocando os ombros; o suor que tangia a pele.
Percorria o caminho à direção do Santo Inácio.
Quando o relevo alteou, já não sabia se era um homem a carregar a roca ou se ambos eram carregados pelos montes, que os impeliam àquele misterioso destino: a roca era o presente de casamento, que ele próprio talhara.
No brilho da peça, o orgulho do trabalho bem feito e a insegurança de uma promessa: casaria com Francisca, mas o que poderia lhe ofertar?
Ansiava por encontrá-la, a Francisca, que mesmo com a bênção do pai fingiria surpresa, agradeceria a roca e diria, ao final, o poderoso “sim”, necessário aos enlaces.
Na arte daquela madeira, o tear engendraria tecidos e mais estórias, genes e gerações.
Era a fina linha do tempo que se tecia, nas batidas compassadas do pedal de tear.
A roda que se comunicava com o fio também sob ele deslizava, ora para ditar a costura, ora para tecer o tempo.
Até que em algum novembro Francisca morreu, ao dar à luz o quinto filho: coração com chagas de barbeiro.
E o compasso da roca, que como o tempo não se interrompe, viu Sebastião, já com os filhos crescidos, desposar Tereza, sua segunda mulher.
Da inscrição da roca, no entanto, ainda hoje se distinguem as duas letras daquela antiga promessa: F e S?
Não. C e T: para o amor de Chica e Tião.


Retrogosto do gim
I por Valéria Borges
O terceiro gole de gim morno desce suave, as notas cítricas e picantes remetem a tempos felizes. Fecho os olhos para sentir melhor os sabores da lembrança. Quando vou servir o segundo copo, avisto o Jorge, do outro lado da piscina, gargalhando. Seu braço musculoso e peludo enlaça a delgada cintura da minha colega de trabalho.
Os dedos indecentes margeiam as nádegas arredondadas dela, emolduradas pelo fio dental rosa-chiclete. Aquele toque era só borboleta revisitando flor, passarinho voltando para o ninho, era casa. Ela nem reage, segue contando uma anedota, e não para de sorrir para a patricinha à sua frente.
O Jorge, meu marido há 12 anos, sorve cada palavra da história, em goles demorados, fechando os olhos para sentir a potência de cada nota. Eu tinha me afastado para pegar o gim, ele relaxou, a mão foi automática para o seu lugar de prazer, e a pele da Brenda a acolheu, feito cão que vira a barriga para ser acariciado.
Meu corpo segue autômato em direção a eles. O estalar do encontro do copo com o chão acorda Jorge de seu torpor, a mão dele, de repente, sente o calor da cintura dela e se retira, queimando. O dedo indicador dele vai direto para a boca, como que para aplacar a ardência. Ele me vê.
Quase vomito o gim. A dor não foi de corna, foi de órfã de devoção. Jorge nunca bebeu das minhas palavras, não comungou dos meus causos, não mergulhou nos meus devaneios. Em mim ele nunca se demorou.

Valéria Borges

